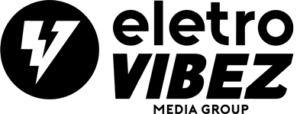Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, parisienses e amigos de longa data, não são exatamente o conceito clássico e popular de artistas. Guy é avesso às palavras, usa roupas comuns, carrega um pingente no pescoço e muita história para (não contar).
Ele conversa amorosamente com sintetizadores, cria laços com computadores e se sente em casa ao lado de sua mente brilhante. Ele prefere fazer. Seu capacete era seu superpoder. Era sua arma secreta. Seu esconderijo perfeito.
Thomas é mais amigo do diálogo leve e um pouco ácido. Alto, magro e com a barba por fazer, se veste e se comporta nas influências de seu pai, músico da cena Disco dos anos 70.
Ao se sentar para contar de sua trajetória musical, ele falará como um coroa amargurado e grato. Se achar que a pergunta foi ruim, dirá. Mas não deixará de responder, de explicar. Gentilmente seco e compenetrado, foi o parceiro encapuzado e brilhante de Guy na missão de fazer a música que ninguém fazia.
Música essa que eles não hesitam em chamar de “amor”. Duradouro, dedicado, leve, cultivado em doses pequenas e cuidadosas. Especialmente preparadas para um momento, para conduzir fãs, para encantar rádios, para convencer o leal parceiro que sempre esteve ao lado do trabalho. Eles odeiam a sonoridade que “sacode as pessoas”.
Guy, em entrevista à Rolling Stones, disse que o que se constrói nos últimos anos não é profundo. É superficial como o sexo. Não se sustenta como um legado. Mal sabia ele que o futuro daria tanta razão à sua fala – rara e precisa.
O Daft Punk nasceu para fazer o que faziam as máquinas, os supercomputadores, mas com pessoas. Eles queriam ser capazes de sonorizar coisas novas, particulares e únicas. E isso não mudou até o último segundo do duo que (re)escreveu o conceito de Electronic Dance Music.
A crise de identidade que criticam ainda hoje, é o grande espaço de respiro e sobrevivência daquilo que fizeram. Enquanto o mundo compartilha ideias, eles criaram um universo. DNA de música. Ao repórter Jonah Weiner, teatralizaram um momento que resume a questão:
Bangalter mostra um pequeno truque de mágica. Mexe em um oscilador no sintetizador imenso e um zumbido agudo soa. Ajoelha, conecta um cabo de saída em uma entrada, gira um botão um milímetro. Distorção. Ele mexe um pouco mais e o zumbido se transforma em um soluço hipnótico, depois em uma potente batida de House Music. Ele sorri como uma criança com um kit de química. O sintetizador está ‘um pouco em todo lugar’. Com isso, você nunca mais consegue o que conseguiu – não há ‘salvar como’. É um playground para construir um som desde o começo.”
Mesclando sua relação super afetiva com a tecnologia, tão nerd que soa visceral, com a caretice de usar capacetes coloridos que, até certa fase da carreira tinham cabelos horrorosos, eles optaram por não se colocarem ordinariamente em cena.
Figuras modestas e sem muito gosto pela performance, apostaram num obscurantismo romântico e desengonçado que fascinou o público – ainda resistente com a música do beat digital. Era um som estranho tocado por caras meio imóveis, parecendo robôs, sob um palco colorido. Tinha tudo para dar errado. E deu incrivelmente certo.
A tática deu certo em muitos aspectos. Hoje, vivendo memórias póstumas de Daft Punk, Guy e Thomas celebram serem ilustríssimos anônimos para pegarem um metrô ou passarem em mercados. “É bom esquecer o que fazemos”. E fazem há muito tempo.
Se conheceram na escola. Fãs de shows de Rock e filmes de terror – os mais pastelões, cresceram comprando CDs e gravavam melodias em um teclado modesto, ainda aos 12. De lá, só restam gravações em VHS, empoeiradas pelo tempo e motivos de uma vergonha querida de ambos, nos estúdios caseiros e luxuosos do pai de Thomas, que surgia o mais impactante projeto de música eletrônica do mundo.
Por mais que o histórico introvertido e discreto preveja um cenário, a adolescência dessa dupla foi um tanto agitada. Ao lado de Brancowitz, formaram o trio de Rock chamado Darlin’, uma tentativa tragicômica de reproduzir os sucessos da enorme KISS. Talentosos, ainda que sem jeito pra essa coisa de “aparecer demais”, eles ganharam visibilidade e atenção dos predadores da música. Sem o Rock, foram às raves underground de Paris. E foi um caminho sem volta. A música que “garotas bonitas ouviam” era o novo estilo dos meninos.
Com uma rispidez e elegância ímpares, Daft Punk, já assinado com uma gravadora e em plena ação, encantou os fãs de rave dos anos 90, acostumados com um tratamento “punk” demais. Álbum produzido, estilizado, vídeos incomuns, sonoridades modernas e muita ousadia foram os passos que causaram um verdadeiro espanto num ambiente frio e estabelecido.
Era muita novidade. Bombardeando artistas e vertentes com o trabalho que culminou em álbuns e turnês, o efeito desse duo nunca será comparável. Foi um hecatombe que deixou marcas profundas e intransferíveis. Segundo Pharrell Williams: “Quando você ouve a música da dupla, sente que foi iluminado.”
A história fala por eles. Fala por “Around the World”, fala por “Get Lucky”, fala por “Starboy” e “I Feel It Coming”, hits de The Weeknd que o próprio, o atual destaque do mundo pop, credita o sucesso aos robôs geniais.
A história fala pelos artistas que são artistas por conta de Guy e Thomas, pelos famosos que são famosos por conta de Daft Punk. “Harder”, por trabalharem a vida toda num estúdio discreto no meio de um bairro comum, na França. “Better”, por serem o ponto fora de qualquer curva e nunca se curvarem ao sucesso. “Faster”, por serem mais ágeis que a glória. Ela perseguiu esse trabalho, mas eles sempre estavam adiantados. Sempre escondidos em sua própria calma. E “Stronger”, por saberem quando era necessário dizer adeus.
One More Time, Daft Punk, obrigado por serem o amor na música eletrônica.